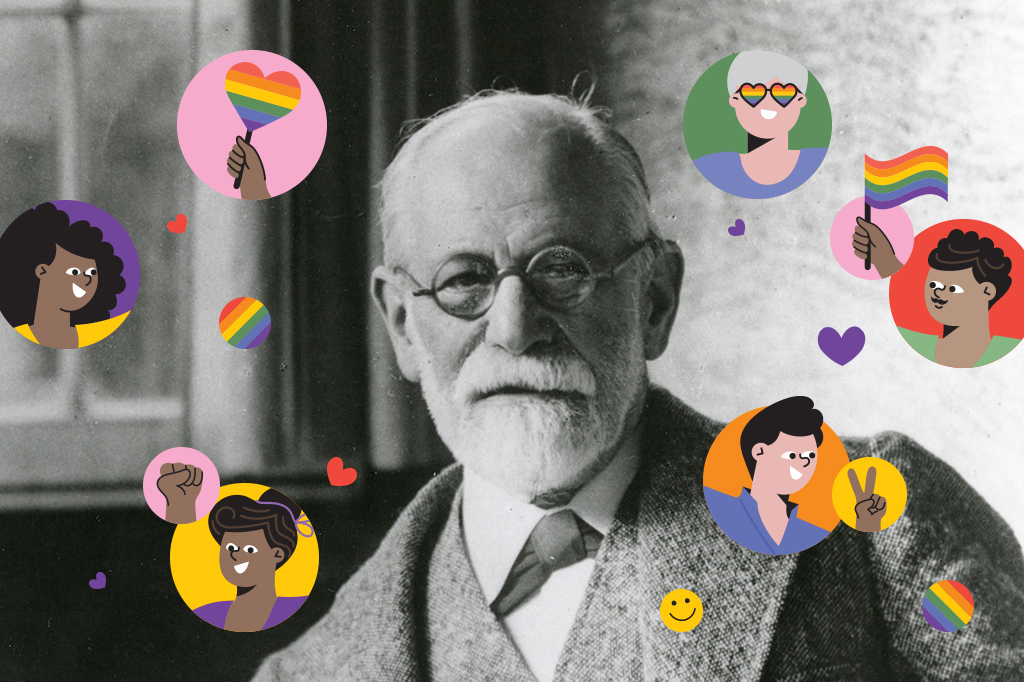Por Maria Clara Rossini
Poucas pessoas lembram quem ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2022. Mas ninguém vai esquecer a grande treta da noite de cerimônia: Will Smith foi até o palco e deu um tapa em Chris Rock após o apresentador fazer uma piada com sua esposa, Jada Pinkett Smith. A brincadeira era sobre a perda de cabelo da atriz, consequência de uma doença chamada alopecia.
A alopecia areata, um dos tipos da doença, ocorre quando o sistema imune começa a atacar os folículos capilares, causando uma queda excessiva de pelos. A doença pode afetar qualquer região do corpo, mas é mais comum que ocorra no couro cabeludo. A alopecia pode ter origem genética ou ser causada por problemas na tireoide, estresse, traumas na região, infecções, entre outras razões.
O mecanismo da alopecia areata não é tão diferente da artrite. Nesse último caso, o sistema imune ataca, erroneamente, os tecidos das articulações. Uma nova pesquisa conduzida pela Universidade de Yale mostra que o tratamento dessas doenças também pode ser semelhante. Em um estudo clínico de fase três, a droga baricitinib (comumente usada no tratamento de artrite) mostrou bons resultados em um terço dos pacientes com alopecia areata.
O estudo analisou 1.200 pacientes que sofrem desse tipo da doença. Eles foram divididos em três grupos: um recebeu 2 miligramas de baricitinib, outro recebeu uma dose de 4 miligramas, e o último grupo recebeu um placebo. O tratamento foi feito ao longo de 36 semanas. A dose de 4 miligramas foi a que mostrou os melhores resultados.
Veja algumas fotos de antes e depois do tratamento.

–
Os pesquisadores analisaram a eficácia usando uma escala que vai de 0 (sem queda de cabelo) a 100 (perda de cabelo completa). No início do estudo, todos os participantes tinham uma nota de no mínimo 50. Ao final do tratamento, 35% dos pacientes que tomaram 4 miligramas apresentaram uma nota de 20 ou menos.
No grupo que tomou 2 miligramas, 20% dos participantes terminaram o período de teste com uma nota de 20 ou menos. No estudo, a equipe escreve que uma nota abaixo de 20 é considerada um resultado de tratamento significativo para pacientes com alopecia areata severa.
Alguns pacientes também reportaram efeitos colaterais, como acne, infecção no trato respiratório, dor de cabeça e níveis de colesterol elevados. Além disso, o mecanismo de ação da droga envolve “atrapalhar” o sistema imune, o que pode prejudicar o combate a outras ameaças. Pacientes com artrite que já fazem uso do medicamento podem estar mais vulneráveis a infecções.
O que o baricitinib faz é inibir uma proteína chamada Janus kinase, ou JAKs. Essas enzimas estão envolvidas em diversas áreas, inclusive o sistema imune. Os medicamentos inibidores, como o baricitinib, conseguem diminuir a resposta imunológica em alguns pacientes, permitindo que os folículos capilares voltem a crescer.
O possível novo tratamento não é uma bala de prata, mas mostrou resultados animadores em parte dos pacientes. Mais pesquisas são necessárias para avaliar a segurança e eficácia a longo prazo.
A droga baricitinib reduziu a queda de cabelo em um terço dos pacientes em estudo clínico. Entenda a doença que afeta a atriz Jada Smith.
Medicamento para artrite poderá ser usado no tratamento de alopecia
publicado em superinteressante